A Editora PPGFIL-UFMG publica exclusivamente obras relacionadas à área de Filosofia, quer originais, quer traduções. Os originais ou traduções recebidos são encaminhados ao Conselho Editorial para avaliação e são publicados somente após aprovação. Podem submeter propostas de livros autorais e coletâneas apenas docentes ou discentes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia e/ou ao Departamento de Filosofia da UFMG. Podem submeter propostas de tradução, com ênfase em fontes primárias, docentes e discentes vinculados a outros programas de pós-graduação.
O tempo de edição dos livros é variado, sendo definido diretamente entre a Editora e os autores/tradutores após o processo de aprovação.
Uma vez aprovados, caberá ao autor/tradutor adequar o texto às normas da Editora, sendo ele responsável pela entrega do livro revisado e diagramado segundo os padrões descritos no Manual de diagramação da Ed. PPGFIL.
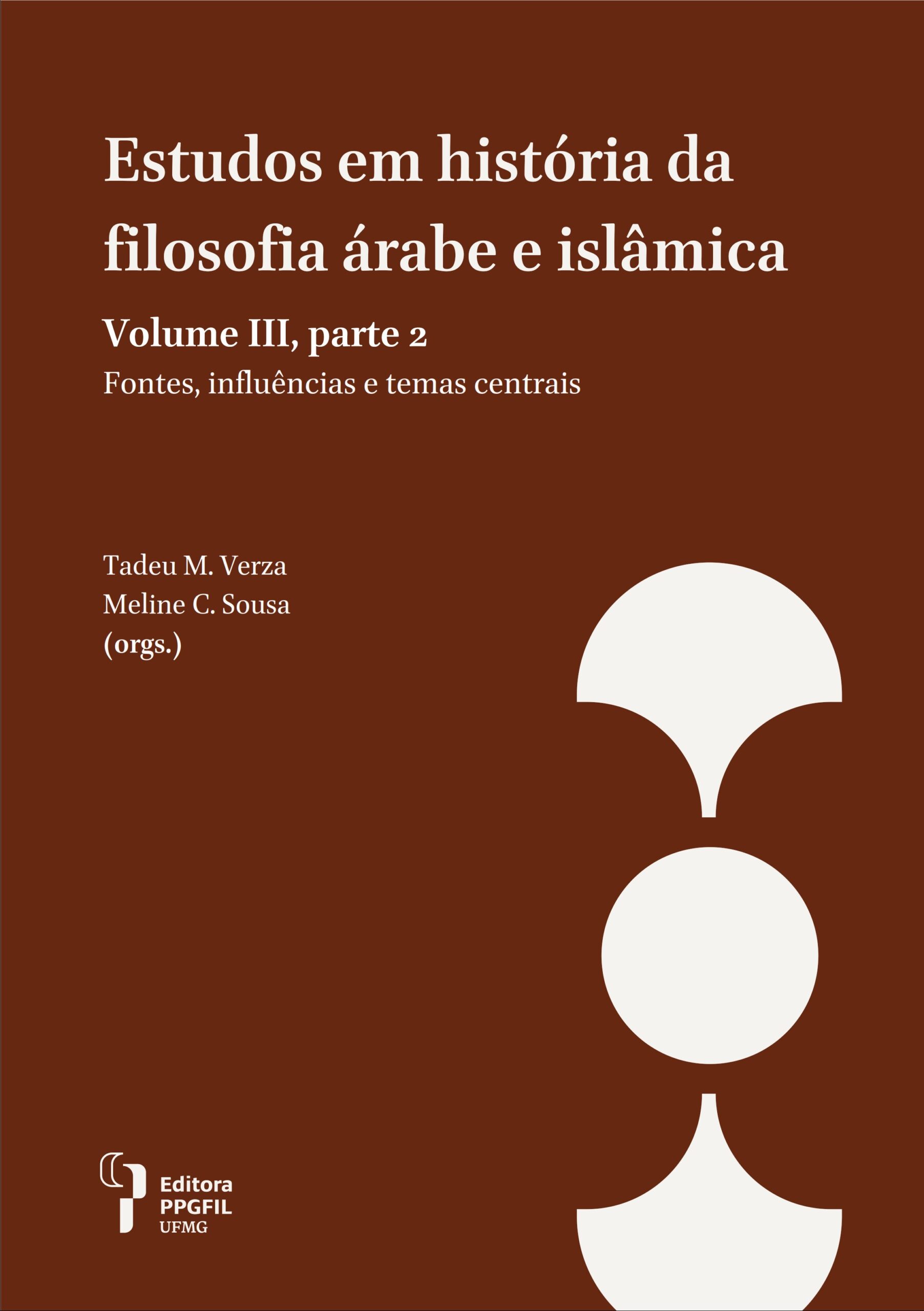
O animal humano que, por meio de engano e astúcia, conhece…
Os meandros da ciência da geometria
Ou astronomia, medicina e filosofia
Que dizem respeito a este mundo
Está impedido de encontrar o caminho para o sétimo céu.
Todas essas ciências são adequadas para a construção de um estábulo
Servem como colunas para a morada de camelos e vacas.
O propósito delas é apenas permitir que o animal sobreviva um ou dois dias
E ainda assim esses imbecis chamam essas ciências de “mistérios”
(Rumi)
Deve-se ser conhecido que os primeiros muçulmanos e os primeiros teólogos especulativos desaprovavam muito o estudo dessa disciplina [filosofia]. Eles a atacaram com veemência e advertiram contra ela. Eles proibiram o estudo e o ensino dela. Mais tarde, desde Ghazâlî e Fakhraddîn ar-Râzî, os acadêmicos tornaram-se um pouco mais brandos a esse respeito. Desde esta época, eles continuaram a estudar lógica, exceto por alguns que recorreram à opinião dos antigos a respeito dela e a evitaram e a desaprovaram veementemente. (Ibn-Khaldûn)
Tadeu Verza e Meline Sousa
Saiba mais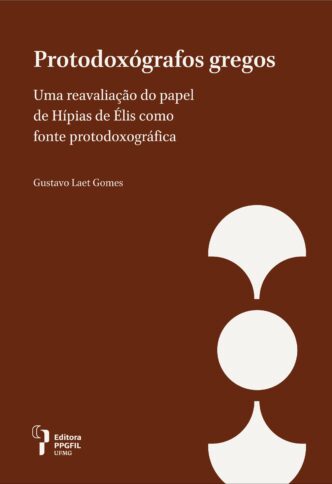
Segundo a tese de Snell, teríamos agora um autor – Hípias – que potencialmente anteciparia a atitude de Platão e de Aristóteles em relação a seus predecessores filósofos. Se Platão e Aristóteles citaram Hípias, e mais: se eles se apropriaram até mesmo de certo jargão filosófico introduzido por Hípias e tomaram a estrutura de uma obra sua como modelo para a abordagem filosófica de temas cosmológicos presentes no discurso teológico da poesia épica, então fará todo sentido procurar por outras instâncias em que Hípias possa ter sido citado ou emulado, para além dos trechos que foram esmiuçados por Snell em seu artigo de 1944. […] Chamarei de método de Snell a extrapolação do método empregado por Snell em seu artigo para outras passagens [inicialmente] platônicas e aristotélicas com características semelhantes – especialmente a combinação sequenciada de citações de poetas-teólogos e naturalistas –, como forma de atestar a adoção de Hípias como fonte para determinadas passagens. […] Como se verá, para os usuários do método de Snell, a simples ocorrência de textos paralelos com estrutura similar à identificada por Snell nas passagens do Crátilo, do Teeteto e de Metafísica A.3 passará, com o tempo, a ser tomada como signo inequívoco da presença de Hípias. (p. 102-103)
A conclusão de que Hípias seria um doxógrafo, ou um quase-doxógrafo, ou ainda o inventor da doxografia, que prosperou entre os sucessores de Snell, deriva basicamente do fato de que Snell partiu de um contexto doxográfico para propor sua teoria sobre Hípias. Trata-se, portanto, de uma projeção especulativa anacrônica sobre uma evidência legítima (os paralelos identificados por Snell). Falar em protodoxografia é muito diferente de afirmar que Hípias era um doxógrafo ou um historiador da filosofia. O prefixo ‘proto-’ quer (ou deveria) indicar justamente que Hípias ainda não é um doxógrafo e não implica que ele tivesse qualquer intenção de sê-lo ou de produzir uma história da filosofia. Implica somente que autores posteriores – estes sim agindo como doxógrafos – podem ter tomado trechos de sua obra como fonte de citações enquanto eles mesmos realizavam suas próprias coletas [en]doxográficas. (p. 278)
Gustavo Laet Gomes
Saiba mais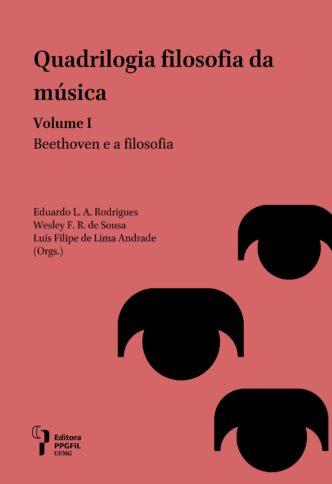
“A principal pergunta em torno do porquê Beethoven ocupar um lugar de destaque na história da música não seria algo trivial e se desdobra com consequências no pensamento estético moderno e contemporâneo. O presente volume desta coletânea – o primeiro de uma série de 4 volumes – parte de tal pressuposto. Seria Ludwig van Beethoven (1770-1827) um “paradigma” na história da música, a ponto de merecer toda uma vasta discussão, interpretação e comentários em torno de sua obra? A resposta pode ser positiva, ainda mais se levando em conta toda uma historiografia, estudos musicólogos e o legado artístico e cultural. Se analisarmos, ao menos por alto, a vasta bibliografia que temos disponível, seja na musicologia, seja na estética filosófica, é plausível pensar aceitavelmente essa afirmativa. Não apenas para a musicologia, mas no pensamento estético-filosófico da música, uma afirmação desta natureza toma por investigação aquilo que ultrapassa, sem dúvidas, os aspectos intrínsecos da obra do compositor. Embora seja lugar-comum a genialidade criativa em volta de seu nome, esta condição contém também aspectos extrínsecos de seus conteúdos. Quando se trata de uma interpretação de obras, autores(as) e suas recepções, tais elementos formam, grosso modo, um tripé do qual a sua objetividade é histórica. A maneira como apreciamos a música de concerto ou a leitura de um poema, por exemplo, teria, em certas acepções, mais a ver com a instância de recepção (lugar, contexto material, estado psíquico e afins) do que essencialmente as qualidades internas a priori de uma obra.”
Wesley Sousa
Eduardo Rodrigues, Wesley Sousa e Luís Andrade
Saiba mais
“Os filósofos muçulmanos consideravam a busca pelo conhecimento como um mandamento divino, e o conhecimento da alma, particularmente do intelecto, como um componente crítico desta busca. O domínio deste assunto proporcionava um quadro no qual a mecânica e a natureza das nossas sensações e pensamentos podiam ser explicadas e integradas e oferecia a base epistemológica para todos os outros domínios de investigação. Em oposição aos pontos de vista ocasionalistas dos mutakallimûn, os teólogos muçulmanos, os filósofos desejavam ancorar o seu conhecimento do mundo numa realidade física estável e previsível. Isto implicava naturalizar a própria alma (nafs em árabe), traçando a relação entre os seus sentidos externos e internos e entre as suas faculdades imaginativas e racionais. No entanto, a finalidade última desta disciplina, a conjugação do intelecto com a verdade universal, tinha um aspecto decididamente metafísico e espiritual. As posições psicológicas delineadas por Aristóteles foram o paradigma dominante para os filósofos muçulmanos, modificadas por variações helenísticas que expressavam perspectivas platônicas. Os séculos IX a XII foram o período do rigoroso filosofar que caracteriza a filosofia islâmica clássica […]”. (Alfred Ivry)
Tadeu Verza e Meline Sousa
Saiba mais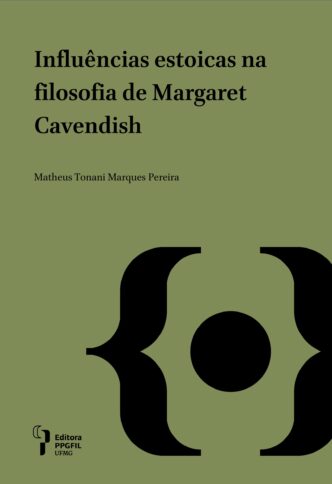
“A honorável e respeitada escola estoica foi provavelmente a tradição de maior influência no Mediterrâneo do período helenístico grego e imperial romano e dificilmente encontraremos estudiosos dispostos a caracterizá-los simplesmente como loucos (a não ser, talvez, os céticos, claro). Por que então, quando Cavendish propõe uma matéria animada que a tudo pervade, que é dotada de movimento próprio, que é origem última de tudo o que se move e da racionalidade que ordena o cosmos, sua doutrina é desmerecida inclusive de valor histórico e remetida às fantasias incontroláveis de uma mulher insensata? Essa foi uma doutrina defendida, com suas devidas proporções, pelos filósofos mais respeitados do século III, II e I AEC, e dos séculos I e II da era comum, além de ter influenciado pensadores dos séculos subsequentes tendo até uma influência considerável em intelectuais da modernidade”.
Matheus Tonani Marques Pereira
Saiba mais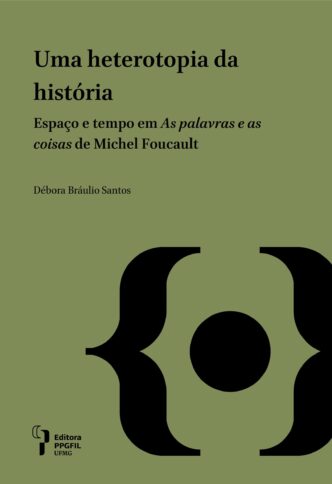
Prefácio de Ivan Domingues
“O que as heterotopias fazem, tanto no campo epistemológico quanto no político, é tornar a ordem visível e legível, ao mapear os espaços existentes (seja o espaço discursivo, do conhecimento, sejam espaços físicos concretos, arquiteturais), funcionando como locais de reordenamento. Ao dar a ver os espaços naturalizados da ordem vigente, elas permitem que tal ordem, até então implícita, apareça, mas também que apareçam seus interstícios, suas fissuras, portanto seus limites, anunciando a possibilidade de que outras formas possam se instalar. Mas, antes mesmo desta “promessa” que se dá no tempo, demonstram que tal ordem hegemônica não é absoluta e onipresente, ou seja, já não ocupa, no momento atual, todo o espaço de forma homogênea – se o fizesse, não seria possível para nós percebê-la. O espaço, heterogêneo e complexo, é composto por uma rede de relações entre elementos que atuam sincronicamente, sendo que, ao identificá-las, já estamos a atuar sobre ele.
A esquerda marxista e existencialista acusou Foucault de tornar impossível a ideia de “revolução”, a qual se baseia em uma concepção dialética, segundo a qual as contradições geram, como fruto da passagem do tempo, as transformações. Se pensarmos que o espaço da ordem vigente já possui, no momento atual, fissuras e interstícios que evidenciam a ordem em funcionamento, mostrando que ela não é natural, e sim construída, a abertura para a transformação pode ser pensada não apenas, ou não necessariamente, em uma lógica temporal, diacrônica, mas espacial, sincrônica. A revolução, enquanto algo porvir, é substituída por formas alternativa de ordenamento, de existência ou resistência já presentes.
A partir de Jorge Luiz Borges e da noção de heterotopia, Foucault evidencia esta ligação entre o espaço e a ordem, bem como entre ambos e o pensamento ou a produção de conhecimento, já que é preciso dispor as coisas em locais específicos para que façam sentido para nós. Se os objetos do conhecimento são indistinguíveis, tornam-se também incognoscíveis. Quando nos deparamos com o incongruente, o inconcebível, precisamos recorrer a este espaço que sustenta a ordenação e fica evidente que nossa capacidade conhecer depende dele, bem como que ele possui estas “casas brancas” através das quais conseguimos olhá-lo – afinal, se estivéssemos totalmente imersos na hegemonia desta ordem, ela nos seria invisível. Talvez, permaneçamos bastante tempo nesta imersão que conduz à invisibilidade das formas dominantes de ordem, política e epistemológica. No entanto, quando nos voltamos para este espaço e o observamos de fora, como um etnólogo de nossa própria cultura, percebemos que ele, como todo espaço, possui uma história. Se o espaço epistemológico é aquele sobre o qual se constitui o que aparece para nós como a “verdade”, então esta também possui uma história, e é sobre essa “mesa operacional” que essa história se encontra, esperando para ser recuperada.”
Débora Bráulio Santos
Saiba mais